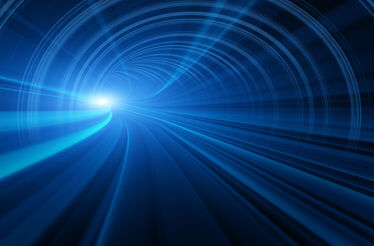Chegaram a ser rotulados de "imperialistas" só porque tocavam com uma guitarra elétrica, um baixo e uma bateria. Fazer rock no final dos anos 70, princípios dos anos 80 não era fácil, mas António Manuel Ribeiro, o homem que sempre dirigiu os destinos do grupo (muitas vezes sozinho) nunca virou a cara à luta. E não foi fácil usar o cabelo comprido nem convencer o pai de que queria ser músico. "A primeira guitarra que tive, ele até a tentou partir!". Foi no Bar É, em Lisboa, que o UHF deram o primeiro concerto, em Novembro de 1978. "Lembro-me dos nervos. Eu tinha 24 anos e cheguei a pensar que ia morrer de ataque de coração. Aquela barreira entre o estar na sombra e o aparecer nas luzes do palco era uma coisa que me aterrorizava", lembra.
Depois de terem assinalado a data das quatro décadas e meia do grupo no dia 18 de Novembro na icónica Incrível Almadense, em Almada, num concerto que foi também uma homenagem à cidade que viu nascer o projeto, o grupo sobe, com este mesmo espetáculo, ao Porto, no dia 30 de Dezembro para um concerto na Casa da Música. Em palco, o grupo apresentará "as canções mais emblemáticas e históricas da carreira, algumas das quais já não são tocadas há muito tempo" mas também temas do novo álbum, 'Novas Canções de Bem Dizer', mais um disco de intervenção social e de arremesso contra a classe política. "Uma cabeça de burro/pode chegar ao poder/Assim nascem charlatães/ que tudo querem consumir/ Se perdoamos suas mães/ não esqueçamos de os punir", ouve-se em 'Indigente' um dos temas mas incisivos do disco e que não podia ser mais atual.
Para recordar no palco da Casa da Música estará também uma história difícil de resumir. "Foram 45 anos intensamente vividos e de grandes descobertas. Descemos ao Portugal real, tocámos em cima de atrelados, às vezes sem camarins e casas de banho e em terras onde só podíamos começar a tocar quando acabasse a telenovela", lembra António Manuel Ribeiro, músico que soube lutar contra os preconceitos em relação ao rock feito em português e que nunca permitiu que a droga, que por várias vezes atingiu o seio do grupo, lhe destruisse o sonho de ter uma banda de rock. "Às vezes parece mentira que aqui cheguei e que os UHF têm esta longevidade, mas isto é a minha vida. A música é uma causa e muita gente não entende isso".
NOTA: Esta entrevista foi publicada originalmente na The Mag by FLASH! a 23 de novembro de 2023

Como é que olha para estes 45 anos?Epá! mudou tudo. Nós começámos na era do analógico e hoje estamos na era do digital. Nós fomos aprendendo ao longo de décadas. Hoje, um disco físico é um produto para colecionadores, daqueles que ainda gostam de ver uma capa de um disco, as fotografias, quem toca nele, em que estúdio foi gravado e por aí fora. Eu sou dessa geração e dessa cultura. Hoje temos a cultura digital com o Spotify e outras plataformas em que as pessoas ouvem canções e muitas vezes nem sabem muito bem quem são os artistas. Politicamente gostava de ter visto o país ficar maduro. Eu já era adulto quando veio o 25 de Abril e já estava na Faculdade de direito na altura do PREC [Processo Revolucionário em Curso]. Houve tempos conturbados? Houve, mas deviam ter sido de aprendizagem. Nós estamos mais modernos, é verdade, mas eu acho que isto é só uma capa. Deixámos de nos preocupar com Portugal. Os portugueses, às vezes, parece que são inquilinos de Portugal.
As canções dos UHF sempre foram muito incisivas do ponto de vista político e social, como de resto o vem provar este novo disco. Ao final de 45 anos a escrever sobre aquilo que o rodeia, já perdeu a esperança de que as coisas mudem?Eu às vezes olho para a Assembleia da República, eu que trabalhei com grandes políticos portugueses, alguns que já cá não estão, e com os quais até podia discordar, mas que eram pessoas que tinham base e formação intelectual e cultural. Hoje parece que isso não existe na nossa classe política. Hoje o que vemos é a política da promessazinha e as pessoas a habituarem-se ao sofrimento, porque parece que têm medo de ser felizes.
Sendo hoje os UHF, mais do que nunca, o projeto do António Manuel Ribeiro, como é que olha hoje para aquele miúdo que iniciou o projeto em Almada no final dos anos 70?Era um puto atrevido que se agarrou a uma ideia e não a deixou cair. Mas por outro lado também era muito ingénuo porque não percebia nada do assunto (risos). Nós fomos os primeiros e passámos por coisas inacreditáveis. Chegávamos aos locais dos espetáculos, perguntávamos onde eram os camarins, e respondiam-nos logo: "Camarins?! Para quê?! mas vocês são algumas vedetas?". Uma vez pedimos ligação terra para a descarga elétrica e trouxeram-nos um camião de terra (risos). Quando fazíamos esses pedidos parecia que estávamos a pedir alguma coisa que vinha de Marte.
E o que tira desse tempo?Hoje tenho de reconhecer que foi muito importante termos sido lançados às feras, inclusive nos espetáculos internacionais. Aprendemos muito, sobretudo a coragem de estar em palco. Os nossos técnicos aprenderam tudo, desde a montar as aparelhagens até aos microfones. Aprendemos muito com os americanos e os ingleses. Na altura, a nossa grande sala de espetáculos era o Dramático de Cascais e em 1979 já tocávamos com os Dr.Feelgood e o Elvis Costello, considerado o rei da New Wave. Lembro-me que eu não conseguia comer dos nervos. Quando via os outros a comer até me dava vómitos. Eu era só água e pão seco (risos). Mas depois, assim que punha o pé em cima de palco aquilo tudo mudava. Foram anos muito atrevidos e muito desafiantes. Em 77/78 vivemos uma grande crise, em 83 já éramos músicos e bem sentíamos o que faltava todos os dias. Os produtos eram todos importados. As cordas de uma guitarra, por exemplo, eram coisas que não se encontravam à venda.
Os instrumentos eram artigos de luxo e caros!Sim. Foi a minha madrinha que me emprestou dinheiro para comprar a minha primeira guitarra. Era muito fraquinha, de tal forma que hoje em dia nem os principiantes a quereriam, mas era cara. Na altura devia custar o ordenado de um mês do meu pai.
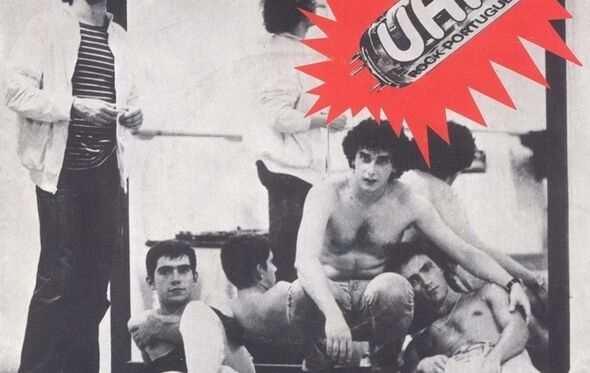
OS ANOS DAS DROGASOs UHF são hoje o grupo com maior longevidade ininterrupta, mas ao longo do seu percurso, passaram por momentos muito complicados, sobretudo por causa das drogas. Estiveram muitas vezes perto do fim?Então não. Em meados dos anos 80, a droga dura, sobretudo a heroína, tomou o lugar do haxixe e surgiu com muita força na periferia de Lisboa, sobretudo em Sacavém, Amadora, Almada e Barreiro. À primeira vez era de graça e à segunda estavas agarrado. Nessa altura eu tive dois técnicos e dois músicos agarrados à heroína. Quase que ia dando em maluco, porque não conseguia controlar o barco.
Os UHF são hoje o grupo com maior longevidade ininterrupta, mas ao longo do seu percurso, passaram por momentos muito complicados, sobretudo por causa das drogas. Estiveram muitas vezes perto do fim?
E o António nunca caiu nas drogas?Nunca. Eu nem sei fumar (risos). Eu não precisava daquilo. Foi única e exclusivamente uma decisão pessoal. Às vezes, os dealers apareciam ao pé dos músicos e diziam: "Epá dá lá isso ao António que ele vai ficar muito mais maluco em palco!". Mas aquilo para mim era uma patetice. Eu não precisava de droga nenhuma para ser eu em palco. Eu precisava era de estar concentrado naquilo que estava a fazer. Estou a lembrar-me agora de uma história engraçada. Um dia, num concerto, numa aldeia do interior, tive dois miúdos a vir ter comigo a perguntarem-me se eu tinha um lenço para fazer um garrote. Eu disse-lhes que nem sabia fumar e eles, não sei se desapontados, fugiram a correr a sete pés (risos).
Mas nunca vacilou?Sim, houve uma altura em que andei metido na política e fui convidado para ser deputado pelo distrito de Setúbal, em que vacilei, porque andava muito cansado e farto daquilo. Mas lá acabei por deixar a política. Mas sim, o horizonte era sombrio porque em Almada foi uma desgraçada. Eu vi muitos amigos meus morrerem por causa da droga. Da minha geração, muitos rapazes e muitas raparigas morreram. No que toca aos UHF, houve uma altura em que não podia fazer mais. Cheguei a ver músicos meus a cair para o lado.
E como é que lidava com essa dependência que afinal punha em causa aquele que era o seu sonho de ter uma banda?Lidava muito mal, mas posso dizer que ajudava como podia. Há um músico meu, que já morreu, que tinha dois filhos ainda pequeninos, que cheguei a levar para minha casa, para o tentar tirar do seu ambiente. Lembro-me que ele chegou como uma vasta lista de medicamentos que tinha de tomar a 'x' horas. Só que aquilo acabou por correr mal e ele acabou por transformar a sua própria medicação em droga. Houve um dia em que tomou todos os comprimidos que havia em casa, menos a pílula da minha mulher. Nem sei como não teve um ataque de coração. Chegou a uma altura em que eu desisti, liguei para a mãe e disse-lhe que lhe ia levar-lhe o filho porque não queria responsabilizar-me por ele.
Mas via muita droga a passar-lhe à frente?Não, isso não, porque eles tinham muito respeito por mim, porque eu era duro. Nunca vi fazer caldinhos à minha frente nem nada dessas coisas, mas muitas vezes bastava ver um músico entrar em estúdio para perceber se já tinha consumido ou não. Mas tenho pena de muitos deles, porque eram boas pessoas. Tinham até um nível intelectual superior, mas andavam completamente perdidos.
O António andou muito tempo a lutar sozinho pela sobrevivência da banda?Isso sim. Muitos dos músicos, por viverem na dependência de drogas, não conseguiam cumprir com os seus compromissos. E eu estive, muitas vezes, completamente sozinho.
Mas nunca teve nenhum tipo de dependência, nem do álcool?Não. As vezes que bebia era para conviver. Eu tive uma educação muito rígida e muito responsável. Acho que o meu pai só me ensinou coisas boas. Hoje, olho para trás e percebo que foi a educação dele que me deu ferramentas para enfrentar o mundo. É verdade que às vezes bebia uns valentes copos quando tinha problemas de amor, o que era estúpido, porque no dia seguinte estava com uma grande ressaca e os problemas de amor continuavam (risos). Mas nunca tive dependência em relação ao copo.
E o que é que bebia?Cerveja ou whisky, embora o whisky tivesse um problema: era de Sacavém (risos). Para o beber tínhamos que encher o copo de gelo, porque aquilo dava uma dor de cabeça desgraçada.
O PAPEL DA FAMÍLIA Já que fala no seu pai, como é que ele reagiu a esta sua opção pela música e em particular pelo rock, numa altura em que este nem era bem visto?Ele nunca levou a sério. Lembro-me que a primeira guitarra que tive, emprestada por um amigo, o meu pai até a quis partir. Para ele, eu tinha era que me dedicar aos estudos. O meu pai só percebeu que eu ia ser músico quando eu já tinha uma carreira (risos).
O seu pai alguma vez viu algum concerto seu?Sim. Viu vários mas nunca me disse directamente o que achava. Dizia-o à minha mãe. Depois dele morrer, ela chamou-me, um dia, para me dizer que o meu pai tinha um orgulho enorme em mim. Vim depois a saber que ele até colecionava algumas coisas que saíam na imprensa sobre mim.

Quando o seu filho começou a entrar neste mundo da música [António Corte Real é hoje guitarrista dos UHF], receou que de alguma forma, a droga lhe pudesse chegar?Não, porque ele teve dois pais limpos, no sentido de nunca terem entrado por estas maluquices. Ele percebeu cedo que o pai se transforma em palco, mas que durante o dia é uma pessoa discreta igual às outras. Eu nunca falho uma selfie ou um autógrafo, mas não ando na rua a chamar a atenção. O meu filho sabe que eu sou uma pessoa disciplinada e acho que foi isso que ele viu.
Esta longevidade de 45 dos UHF ainda continua a ser um fator de surpresa para si?Sem dúvida nenhuma. Às vezes parece mentira. Mas isto é a minha vida, uma vida entregue à música. Eu não faço férias há 45 anos. Às vezes ia com os meus filhos para a neve em Andorra, na altura do Natal onde aproveitávamos para comprar os presentes, mas não havia mais do que isso. A música quando é levada a sério é quase uma causa e muita gente ainda hoje não percebe isso. Eu ainda encontro amigos do liceu ou da faculdade, alguns já reformados, que ainda me perguntam: "Então António, para além da música, fazes o quê?!"
Mas consegue explicar esta longevidade?Eu tenho muita dificuldade em falar de mim. Sei lá! Acho que isso se explica talvez por eu ser um tipo que não desiste. Sou de convicções, mas não sou maluquinho. Quando eu acredito numa coisa eu avanço e não sei desistir.
Há dez anos que os UHF não lançavam um disco de originais. É porque não havia nada para dizer, ou muito pelo contrário, porque tem havido demasiadas coisas para dizer e para assimilar?Isso também é verdade. Mas houve de facto um período em que tivemos que parar por causa do confinamento, mas hoje, que olho para trás, ainda bem que estivemos parados. Deu mais tempo para pensar, ensaiar, agarrar em canções que já tinha escrito há alguns anos, trazê-las e fazer este disco.
Em 2013, quando os UHF lançaram 'A Minha Geração' dizia que Portugal parecia "um barco a afundar-se que nunca mais se afunda". Este volta a ser um disco de intervenção muito cáustico, muito critico, sobretudo para com aqueles que têm o poder e que nos governam. Que capacidade é esta que temos para nos mantermos à tona?Somos sofredores e passamos a vida a nadar. E depois temos outro problema: quando entramos para o bote, estamos cada um a remar para o seu lado e o bote não sai do mesmo sítio. O que eu sinto é uma moléstia muito grande. Por exemplo, toda a gente se queixa de tudo, mas a verdade é que temos 50 por cento da população que não vota. E pior que isso, parece que estamos sempre à espera de algum milagre. É verdade que os milagres por vezes surgem em forma de dinheiro, mas também é facto que não vemos o país a dar o salto com as ajudas que vêm de Bruxelas.
E no seu caso, a revolta é toda canalizada para a música?É mais do que revolta. É tristeza e dor. Eu não quero fazer nenhuma declaração que possa ser entendida como xenófoba, mas até a Roménia já nos passou. Há 32 anos, veio da chamada cortina de ferro e era um país onde tudo faltava. Ora, há umas semanas o PIB romeno ultrapassou o de Portugal. Parece que estamos sempre a ser adiados e este disco traz alguma intervenção nesse campo. Este disco é um desafio para Portugal se ver ao espelho.
Um dos temas que marca este disco é sem dúvida 'O Indigente'. Ainda espera que alguém enfie esta carapuça ou o nível de vergonha já é tão grande que haverá sempre quem pense que a critica é para o partido ao lado?(risos). Pois, se calhar é isso que vai acontecer, porque enfiar a carapuça é ser doloroso. Esse é um dos temas em que eu trabalhei a filigrana do poema, porque existem muitos exemplos neste país que são uma inspiração para quem quer fazer de trovador, reabilitar a canção de intervenção e falar para as pessoas.
E perante estes cenários a canção de intervenção é algo que nunca sai de moda!Pois não. É a nossa tradição desde a idade média com as canções de escárnio e maldizer. Esta é a forma de tomarmos uma posição. Eu não sou um tontinho que anda à procura de rimas. Eu ando é sempre à procura de alguma coisa que interesse às pessoas. As canções têm se ser úteis.